Compaixão anestesiada
A insensibilidade diante da dor real, a banalização da violência nas telas, a compaixão reduzida a like ou repost.
Eu também desviei o olhar, relativizei, inventei desculpas para não parar diante de alguém caído no chão frio da cidade. Mas a verdade não se esconde: cada vez que negamos a compaixão, um pedaço da nossa humanidade é amputado, e o arrependimento, cedo ou tarde, volta para nos assombrar.
Compaixão não é gentileza ou virtude delicada, mas brutalidade visceral, o coração sendo arrancado do peito diante da dor do outro. Ainda assim, anestesiamos esse instinto, fingimos que ele não existe, e o espetáculo das redes sociais só reforça essa anestesia: a criança morta em Gaza, a mãe soterrada no Rio Grande do Sul, o cachorro queimado vivo em uma rua qualquer. Tudo desfila na tela em segundos, e em seguida um movimento rápido do dedo nos leva a outro vídeo curioso, outra distração banal, como se o horror pudesse ser reduzido à duração de um clique.
A ciência e os relatos daqueles que se despedem da vida na beira de uma cama hospitalar confirmam o que sempre soubemos: ninguém lamenta aquilo que deixou de acumular, mas o tempo desperdiçado tentando sustentar máscaras, representando papéis para satisfazer expectativas alheias, enquanto os que estavam ao lado eram deixados de lado. Quando chega a hora da verdade, o que se conta com orgulho é simples: ter estado presente, ter segurado uma mão, ter olhado de frente para alguém no momento em que isso era tudo.
Nos desastres coletivos, quando a lama invade casas, quando corpos são retirados de escombros, quando sirenes ecoam sem parar, não há espaço para bandeiras ou partidos. Ninguém pergunta em quem o outro votou.
A compaixão rompe a bolha e se impõe como a força mais elementar, e nesse instante lembramos, ainda que por um breve lapso, da substância real de que somos feitos.
Mas fora dessas tragédias, no cotidiano automatizado, voltamos ao transe da separação. O outro volta a ser o inimigo, o obstáculo, a ameaça. O vizinho que pensa diferente passa a representar mais perigo do que a fome que bate à porta. A polarização se endurece e a política se transforma em guerra de torcidas, enquanto a vida, reduzida a um fluxo de imagens editadas, se apresenta nas redes como um campeonato de selfies. Não percebemos que quanto mais gritamos por independência e individualidade, mais o isolamento se aprofunda.
Esse é o verdadeiro bug do sistema: a crença de que estamos sozinhos e de que precisamos conquistar, vencer, extrair, destruir. É isso que corrói sociedades inteiras, não o “outro”. Basta olhar para trás, para os escombros da nossa história, e fica claro: civilizações não caem porque foram derrotadas por forças externas, mas porque apodreceram por dentro quando a compaixão se esvaziou.
Chegamos a um ponto em que não basta mais uma atualização de software, como as que fazemos distraidamente no celular. O que se faz necessário é um reboot radical, uma reinicialização brutal que arranque pela raiz a ilusão de que somos apenas corpo e mente em competição permanente. A realidade não é esse teatro que tomamos como óbvio. “Quem sou eu?”, perguntamos, e respondemos sem hesitar: “Sou o que penso.” E no entanto, essa resposta é apenas mais uma máscara. Puro delírio.
A realidade é muito mais simples, nua e impossível de negar: eu sou, e estou consciente, percebendo que percebo.
Não sou meus pensamentos, não sou meus sentimentos, não sou o personagem que interpreto todos os dias. Sou aquilo que observa tudo isso em silêncio, sem julgamento, sem resistência.
E se ainda houver julgamento ou resistência, não é Consciência, é apenas o ego, esse mecanismo automático que insiste em enxergar um mundo hostil à espreita.
Todo o resto, eleições, curtidas, trending topics, não passa de fumaça.
“É, bem, você sabe, isso é apenas, tipo, sua opinião, cara.”
- O Grande Lebowski






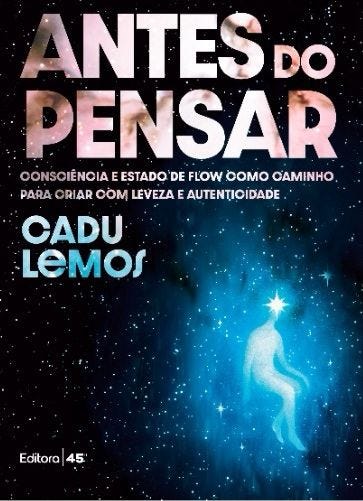
Compaixão é o Amor em ação. Uma prática mais do que essencial nos dias de hoje.
Muito bom 🙏🏻 Não dá para sair da leitura sem parar e refletir 💫