O esquecimento que nos dividiu
A mente inventa fronteiras que a Consciência nunca reconheceu.
Há dias em que o calendário parece lembrar algo que a memória insiste em esquecer. Datas que falam de histórias, dores e conquistas, mas que, para além de qualquer significado coletivo, despertam em mim a vontade de olhar com mais cuidado para aquilo que sustenta todas as diferenças que vemos no mundo. O 20 de novembro reforça o ato de estar atento ao movimento da mente que tenta definir quem somos a partir da superfície, enquanto algo mais profundo continua intacto, silencioso, anterior a qualquer identidade. Foi nesse espaço que percebi o quanto a experiência humana se apoia em contornos que não dizem tudo, porque a essência que nos caracteriza permanece a mesma, independentemente da forma que assumimos.
Quando deixo a atenção repousar no lugar onde tudo nasce, começo a ver de maneira direta o mecanismo silencioso que transforma diferenças aparentes em identidades fixas. Ele atua rápido, quase como uma defesa automática, capturando nuances da forma e as convertendo em certezas que parecem sólidas demais para serem questionadas. Mas basta acompanhar esse movimento até o fundo para perceber que ele não passa de uma tentativa da mente de se localizar em um mundo que ela mesma construiu. Nada ali é substancial. Nada ali sobrevive quando é olhado sem pressa.
À medida que permaneço nesse reconhecimento, percebo que as identidades que definem quem somos para o mundo - corpo, gênero, cor, origem, história, condição - surgem e desaparecem como ondas na superfície de algo que não se move. Essa constatação não diminui a importância da vivência humana; revela que ela não descreve a totalidade da experiência. Existe um ponto anterior a qualquer narrativa, um centro silencioso que não pode ser diferenciado porque não pertence ao domínio da forma. No momento em que esse ponto se torna claro, todas as distinções perdem a urgência que pareciam ter.
É curioso como a mente ou o ego, chame como preferir, insiste em transformar diversidade em separação, como se aquilo que nos torna diferentes na superfície pudesse justificar fronteiras no essencial, se apegando a características que acredita definirem a essência de alguém, atribuindo valor, ordem, importância, tentando proteger algo “ameaçado”. Quando olho desse lugar onde a experiência se revela sem intermediários, percebo que esse esforço inteiro nasce do medo de deixar de ser, deixar de existir, o medo atávico que nos acompanha desde sempre. A mente (ou nós mesmos quando ainda não percebemos nossa real natureza), teme desaparecer, então cria territórios, categorias, distâncias. E assim repete, sem perceber, a mesma confusão que sustenta todos os preconceitos.
Quando a atenção repousa no que observa, não no que é observado, torna-se impossível sustentar a ideia de que as diferenças visíveis carregam alguma essência.
A presença que olha não tem forma, não tem nome, não tem cor, não tem história e é justamente por isso que ela acolhe todas as formas sem contradição. Ela não compara, não hierarquiza, não mede, mas percebe. Essa percepção derruba silenciosamente qualquer estrutura construída sobre a crença de que somos entidades separadas vivendo em conflito permanente.
Isso não nega a dor humana, não a minimiza, não a espiritualiza. Pelo contrário: expõe sua causa com precisão. A dor nasce quando a atenção se identifica exclusivamente com o personagem e toma como verdadeiro o conjunto de histórias que a mente repete desde sempre. Surge aí a violência, o desprezo, a tentativa de dominar o outro, porque o outro é visto como ameaça à identidade que se acredita real. O que acontece é que quando essa identidade é vista como construção, não como essência, o espaço para que o preconceito se sustente desaparece.
É nesse silêncio que reconheço algo fundamental: a diversidade que vejo no mundo é expressão do mesmo campo indivisível que habita tudo. Cada rosto, cada corpo, cada gesto, cada trajetória, são variações de uma única vida se movendo em direções diferentes. Essa percepção pode ou não amadurecer em cada um de nós, mas uma coisa é certa, o preconceito revela sua fragilidade. Ele não se sustenta diante da evidência de que nada que nos diferencia na forma tem o poder de definir quem somos no essencial. O que nos anima é o mesmo, contínuo, anterior a qualquer distinção possível.
Quando ocupo esse espaço que testemunha tudo sem esforço, percebo que cada história de separação perde a força. São narrativas que descrevem o medo, não a realidade. São tentativas de dar forma ao que não tem forma. Essas narrativas se dissolvem se levarmos nossa atenção plena a elas, o que resta é uma simplicidade que não depende de explicação: uma única vida desdobrada em múltiplas aparências, cada uma carregando a mesma luz que ilumina o que vejo agora.
Nada disso é uma ideia, uma filosofia ou uma crença, é apenas uma constatação direta, a percepção de que, antes de qualquer nome, existe algo silencioso e inalterável que me torna inseparável do que encontro à minha volta. Ao se tornar claro, esse reconhecimento mostra que o mundo continua exatamente como é, mas a maneira de interagir com ele muda, não porque eu mudei, mas porque não existe mais apoio para a antiga e equivocada história da separação.
A vida segue, vasta, contínua, indivisível, e com ela eu sigo, sem precisar defender nem atravessar nenhuma fronteira que nunca existiu fora do pensamento.
“É, bem, você sabe, isso é apenas, tipo, sua opinião, cara.”
- O Grande Lebowski
Obrigado por ler O Psiconauta!
Nenhum autor é dono do que escreve, apenas o tradutor do silêncio que o antecede. Escrever foi o modo que encontrei de investigar o que somos quando a mente se aquieta.
Cada texto nasce desse movimento silencioso da consciência tentando se reconhecer em forma. Às vezes surgem palavras, outras apenas o espaço entre elas. Não escrevo para explicar nada, escrevo para lembrar. A ficção, a ciência e o cotidiano são apenas pretextos. O que fala por trás é o mesmo silêncio que lê.




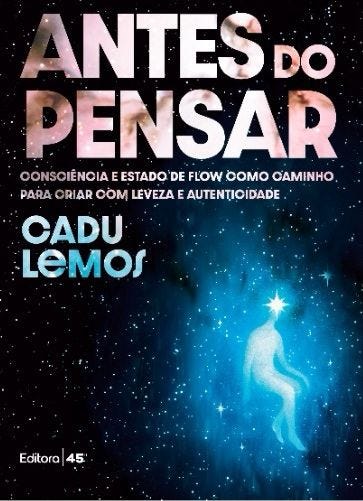
Esta frase vale uma vida de reflexão para que se possa extrair todo o aprendizado contido nela:
"Quando a atenção repousa no que observa, não no que é observado, torna-se impossível sustentar a ideia de que as diferenças visíveis carregam alguma essência."
Cadu, obrigado! Seus textos são oásis nesse deserto que se tornou a internet.
Muito bom, Cadu. Você conhece o conceito das 8 consciências, central do Budismo Mahayana?