O 'Eu': Ilusão, Tempestade e Reboot Existencial
Aquilo que você chama de identidade é só software rodando em segundo plano.
Dizer “eu” parece natural. Desde cedo aprendemos a apontar para o corpo e afirmar: sou eu. Aprendemos a dizer: “minhas ideias, meus sentimentos, minha vida”, como se houvesse um dono por trás de tudo. Esse self, essa identidade que carregamos como se fosse um crachá, dá a sensação de que somos alguém separado, diferente e isolado do resto.
A psicologia costuma falar em self, a filosofia preferiu inventar nomes mais rebuscados, e a religião pintou a mesma questão com tintas diferentes. Mas no fundo, aquilo que chamamos de eu ou identidade é só uma maneira rápida de encerrar a conversa. Ora, não é óbvio? Eu sou o fulano, gerente de vendas da empresa xpto. Parece convincente, mas é só um truque do ego que prefere etiquetas fáceis ao silêncio do que não pode ser dito.
Penso nesse “eu” como uma tempestade. Damos esse nome forte, quase definitivo, mas a “tempestade” não existe de verdade. O que existe são ventos, raios, trovões e chuva. Cada elemento é separado e independente, mas quando estão juntos inventamos um nome único e pronto, já nos damos por satisfeitos e nem pensamos mais no que é realmente aquela experiência. Pense numa árvore. Pronto, nem precisa prestar atenção se houver alguma à sua volta, ora árvore é árvore. O mesmo acontece com a persona que defendemos.
Na prática, esse personagem ou nosso ego, funciona como um sistema operacional. Desde cedo vamos instalando programas: frases repetidas em casa, regras que a escola nos empurrou, medos emprestados da cultura, expectativas alheias, agindo tal qual um programa cheio de códigos, crenças e valores que fomos baixando sem pensar, aceitando os “termos de uso” sem ler (mas você não faz isso quando instala um aplicativo, ou faz?). Tudo isso é amarrado num pacote, numa embalagem nesse “aparato” corpo/mente chamado de eu. A etiqueta dá a sensação de substância, e acreditamos que há uma entidade sólida atrás disso.
A separação é só uma ilusão bem contada.
Imagine que nascemos com um óculos de realidade virtual grudado no rosto. O problema é que esquecemos que o programa está rodando e passamos a acreditar que a imagem da tela é a vida em si.
Quando alguém tira esses óculos ou os tem arrancados por alguma situação extrema da vida, o primeiro impacto não é paz, é choque. A luz verdadeira incomoda, machuca os olhos. Platão já mostrou isso no mito da caverna: quem sai das sombras não encontra de imediato um céu claro, mas o incômodo de perceber que tudo o que parecia real não era.
O reboot do sistema é exatamente isso, uma espécie de morte simbólica. Não se trata de apagar memórias nem de atualizar o sistema operacional para uma nova versão mais sofisticada do eu. É parar de rodar o programa inteiro. O reboot limpa as ilusões acumuladas e expõe aquilo que sempre esteve ali, mas que nunca tinha sido visto sem o filtro.
E a vida cotidiana entrega as falhas desse filtro o tempo todo. Bebo um copo d’água e aquilo que era “fora” passa a correr dentro das minhas veias. Onde está a fronteira entre eu e mundo? Alguém me elogia ou me critica e, em segundos, meu estado interno muda. Uma memória de uma situação vivida lá atrás, tem o mesmo efeito. Se esse eu fosse tão sólido e autônomo, como poderia ser alterado tão facilmente pelo olhar de outro, por um pensamento fugaz?
Ainda assim, defendemos o personagem com unhas e dentes como já disse Morpheus a Neo em Matrix.
O autor britânico Richard Sylvester escreveu de forma provocadora sobre isso em seu livro “I Hope You Die Soon”. Mas essa morte não é a do corpo, é a morte do falso eu, da identidade condicionada e obediente. É a morte do personagem que carregamos a vida inteira sem notar o quanto era artificial.
Quando as histórias pessoais se esgotam e paramos de sustentar a fantasia de que somos o passado acumulado e o futuro imaginado, sobra silêncio. Esse silêncio parece vazio no começo, mas vazio de quê? Das ilusões, ruminações do passado ou projeções do futuro. O que sobra não tem nome e não pode ser colocado em discurso. Não é algo a ser alcançado, não entra no currículo, não pode ser transformado em troféu. É só o que sempre esteve aqui, antes de qualquer personagem.
Essa morte simbólica é mais rendição do que conquista.
O reboot acontece quando paramos de sustentar a ficção, quando as histórias pessoais não conseguem mais nos convencer, quando a identidade já não se aguenta em pé e finalmente, sobra o vazio, o espaço, o silêncio. Aqui, não há dentro nem fora, não há eu e mundo. Só há o que É.
O tal eu, o self, a identidade, é só um ruído disfarçado de tempestade. A vida real não precisa desse nome para acontecer, precisamos sim, tirar os óculos e deixar a tela apagar.
A realidade nunca esteve atrás da lente.
"É, bem, você sabe, isso é apenas, tipo, sua opinião, cara."
- O Grande Lebowski






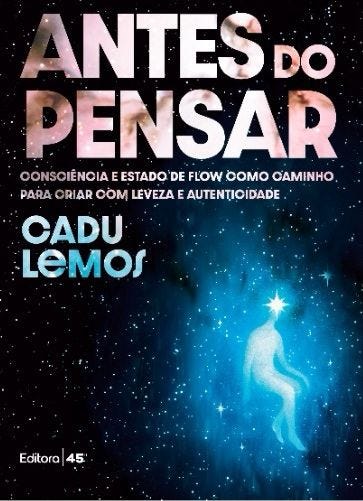
Excelente texto, como sempre Cadu!