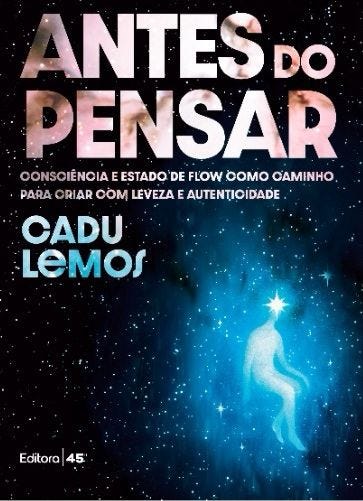Nada Fica, Ninguém Fica
Um mergulho nu na impermanência, além da história que você conta sobre si mesmo
Quanto tempo dura o agora?
Sempre que escuto alguém sugerindo que a gente “deixe o passado pra trás” ou “não sofra por antecipação”, o que me vem não é o conselho, mas a pergunta que ele inevitavelmente provoca: que espaço é esse que chamam de presente? De que tamanho é esse “agora” onde tudo, supostamente, deve caber?
Durante muito tempo, tentei encontrar essa resposta repetindo o mantra mais desgastado da espiritualidade moderna, aquele que Ram Dass cristalizou num título e que hoje virou bordão: esteja aqui agora. Gosto da ideia. Gosto mesmo. Mas se o futuro ainda não existe e o passado já se foi, onde, exatamente, está esse ponto suspenso que chamamos de presente? E mais do que isso: quanto tempo ele dura?
Zero. O agora não dura nada. Esse exato instante em que você lê já não é mais o mesmo em que comecei a escrever. As palavras que você acabou de ler já se foram, assim como o que você sentiu enquanto lia. O agora é o instante que se desfaz enquanto acontece, como um fósforo que se apaga no mesmo segundo em que acende, como uma fileira de dominós que desaba em silêncio, sem que se possa impedir o movimento.
O presente não tem largura, profundidade nem permanência. Ele não pode ser segurado, nem visitado. Ele acontece. E já foi.
A ideia de que o passado nos define é frágil. A crença de que o futuro nos pertence é delírio. Ambos são projeções construídas a partir de memória e imaginação, dois instrumentos imprecisos que insistimos tolamente em tratar como bússola. Se o agora não se sustenta e o que chamamos de realidade depende de dois elementos que não existem, então sobra o que?
Essa pergunta não me leva a uma teoria, mas a um gesto. E o gesto, nos últimos anos, tem sido simples: me sentar diante de uma velha máquina de escrever de 1963, fabricada quando eu tinha um ano de idade, e datilografar palavras que não sei de onde vêm. Não é nostalgia nem afetação. É uma tentativa de me ancorar no que ainda está aqui, enquanto passa. O som das teclas, a vibração do metal, a resistência do papel, tudo isso cria um tipo de fricção com o tempo, como se eu tentasse firmar no papel algo que não tem onde se apoiar.
O curioso é que, nesse gesto, eu já não me reconheço como alguém que evoluiu ou amadureceu. Às vezes, penso que mudei. Que me tornei mais consciente, mais lúcido, talvez mais livre. Mas esse pensamento vem de um lugar suspeito. O lugar de onde o ego se esconde quando tenta parecer humilde. É ele quem diz que mudou. É ele quem se vangloria da transformação. E quando percebe que não manda mais, esperneia e tenta voltar. Às vezes consegue e me puxa de volta pra dentro de um teatro que já não tem plateia. Mas dura pouco. Quando percebo, volto a olhar. Volto a sentir os pés tocando o chão. Volto ao corpo sem cabeça, a um truque que aprendi1 - e que funciona - para lembrar que o momento presente não é uma conquista, mas uma entrega. Não se entra no agora como quem atravessa uma porta. A gente cai nele e aprende a não se agarrar ao corrimão.
Com o tempo, ou com a dissolução dele, fui percebendo que tudo o que me acontece por dentro não passa de movimento contínuo. Estados de espírito, emoções, reações, pensamentos que aparecem e desaparecem com a mesma indiferença com que surgiram. Não são meus, nunca foram. Não têm dono nem finalidade. São como eventos climáticos. O problema é que a gente acredita neles. Acha que vieram dizer alguma coisa sobre quem somos.
Os pensamentos vêm e vão. As emoções também. O que fica é o apego a uma ideia de si mesmo que nos foi ensinada, reforçada, cultivada desde cedo. Um personagem que herdamos, e que repetimos como se houvesse alguém real por trás. A ilusão de um eu fixo, separado, responsável pelos próprios pensamentos, sentimentos e decisões é talvez o mais sofisticado autoengano já fabricado por nossa espécie. E o mais inquestionado.
Quando isso se revela, e não estou falando de compreender intelectualmente, mas de ver com os próprios olhos - o sofrimento perde a base. Ele continua acontecendo, talvez com a mesma intensidade, mas deixa de ter um destinatário fixo, deixa de ser pessoal. E o que era drama vira fenômeno meteorológico como o vento, a chuva, o calor. Vira nada.
Dá pra lembrar que um dia a gente parou de acreditar em Papai Noel. Talvez esteja na hora de fazer o mesmo com esse “eu”.
O agora, esse lugar que tanto nomeamos, nunca existiu como um intervalo delimitável. O “aqui” ainda pode ser apontado. Está onde estou, onde você está. Mas o “agora” é uma abstração. Ele não se oferece como algo palpável, não tem contorno, não tem começo nem fim. Como se o tempo se resumisse a uma sequência de percepções que surgem e desaparecem incessantemente, sem trégua, sem moldura. Não há passado que me arraste, nem futuro que me espere. Só este instante que já não é o mesmo enquanto você lê.
Isso traz alguma paz, não como um alívio, talvez como lucidez. Se estou atento ao que me cerca, à textura do ar, ao som dos dedos batendo nas teclas, à temperatura da sala, ao cheiro do papel, simplesmente estou. Esse estar, por mais fugaz que seja, é o que há de mais inteiro. A realidade do “eu sou” não precisa de um passado pra se explicar, nem de um futuro pra se justificar. Ela só precisa disso que está acontecendo agora. Sem nome, sem sentido, sem dono. Eu sou.
Às vezes me vejo de fora. Observo esse corpo digitando, esse leve movimento dos ombros, a tensão nos dedos, o som que vibra no metal da máquina, as letras surgindo em sequência. Tento acompanhar esse processo como quem acompanha o voo de um pássaro: sem desejar que dure, sem precisar entender pra onde vai. E é nesse olhar que não exige nada, que percebo alguma coisa que talvez sempre tenha estado aqui. Não existe separação entre quem escreve e quem lê. A ideia de dois já não se sustenta. O que há é uma única consciência brincando com ela mesma, usando formas diferentes, linguagens distintas, experiências particulares, mas todas vindo do mesmo lugar, indo pro mesmo lugar, dissolvendo-se no mesmo agora.
Nenhum pensamento é original. Nenhuma emoção é sólida. Nenhuma crença é definitiva. Tudo passa. E tudo é só isso: um evento fugaz, como a chuva, como o vento, como a luz que atravessa a cortina por alguns segundos e desaparece sem ruído.
No começo, eu achava que sabia. Sabia quem eu era. Sabia quem eram os outros. Montei um contorno. Uma cerca. Uma fronteira entre o mundo e eu. Minha timidez reforçava esse traço, me protegendo daquilo que eu ainda não sabia interpretar e isso parecia fazer sentido. Havia um eu, havia o mundo. Havia a necessidade de me afirmar, de me defender, de me diferenciar. Mas não havia clareza, só o instinto de sobrevivência tentando se passar por identidade.
Hoje vejo que aquela dúvida, que à época parecia fraqueza, já era o início do fim da história. A rachadura por onde o tempo começa a vazar. A curiosidade que empurrou meu corpo para fora de casa e minha mente pra dentro de um labirinto que parecia não ter saída. Essa curiosidade me trouxe muita coisa, inclusive arrependimentos. Por muito tempo, carreguei cada um como se fossem marcas que provassem minha existência, mas hoje, quando olho pra trás, não vejo mais peso. Só vento.
Demorou o que tinha que demorar. Cada um tem seu tempo para essa dissolução. O meu “tempo” precisou de silêncio, de colapsos internos (muitos) e de uma máquina de escrever. E agora, tudo o que faço é continuar datilografando o que não precisa mais ser dito. E mesmo assim, escrevo.
Porque é só isso que (ainda) acontece.
"É, bem, você sabe, isso é apenas, tipo, sua opinião, cara."
- O Grande Lebowski
Obrigado por ler O Psiconauta!
Mantenho tudo aqui gratuito e de fácil acesso, sem compromisso. Se você achar útil, a melhor maneira de apoiar além de assinar, é por meio de um restack ou recomendação e compartilhamento da publicação - isso faz uma grande diferença.
Aproveite e que o flow esteja com você!
Antes do Pensar, meu livro sobre Consciência e Estado de Flow já está disponível, clique na imagem.
Douglas Edison Harding (1909-2007) foi um filósofo, escritor e professor inglês que desenvolveu uma abordagem única para a investigação da natureza da consciência, conhecida como o "Caminho sem cabeça" . Ele é autor de vários livros, entre eles "On Having No Head", que descreve a sua abordagem única e direta para a prática da não dualidade. O livro é uma exploração profunda da natureza da consciência e da percepção, com foco na experiência direta da ausência de um "eu" separado.
A obra começa com a descrição da descoberta de Harding de que ele não tem cabeça, no sentido de que ele não pode ver a sua própria cabeça diretamente, apenas o mundo ao redor dela. A partir dessa percepção, ele desenvolve uma série de práticas simples e acessíveis, conhecidas como o "caminho sem cabeça", para ajudar os leitores a experimentarem a ausência de um eu separado e a vislumbrarem a consciência desperta.
Harding descreve como a nossa percepção é filtrada pela mente conceitual, que constrói uma imagem mental de nós mesmos baseada em pensamentos e conceitos sobre o nosso corpo, mente e identidade. Ele propõe que a prática da não dualidade envolve olhar diretamente para a experiência presente, sem a mediação da mente conceitual, e descobrir a presença livre e ilimitada da consciência pura.
Uma ressalva para os céticos: Pode sim, ser a coisa mais ridícula que você já leu. Ou a mais sábia...
O "caminho sem cabeça" envolve a percepção de que nossa usual sensação de um "eu" limitado ou uma "mente" em nossa cabeça é ilusória. Em vez disso, somos uma vasta consciência livre de formas ou fronteiras, que apenas contempla a aparição dos pensamentos, sensações e percepções.